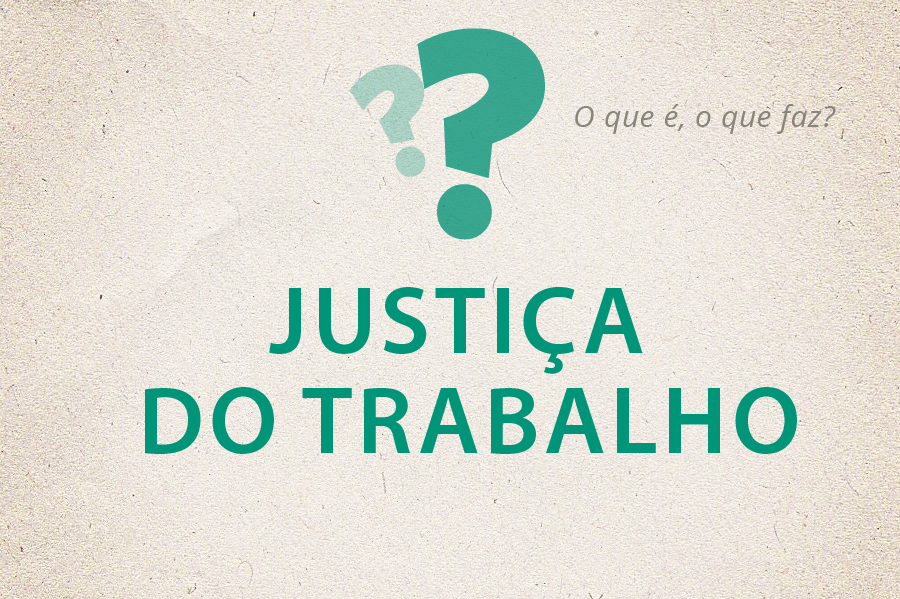A semana que antecedeu à entrada em vigor das novas regras instituídas pela Reforma Trabalhista foi marcada por uma corrida à Justiça do Trabalho. Em pelo menos cinco tribunais do país, o volume de processos ficou acima da média entre os dias 1º e 10 de novembro de 2017 – o texto passou a valer dia 11. No Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio de Janeiro, 10.740 ações foram ajuizadas apenas no dia 10, quase a metade da média mensal. Bahia, Espírito Santo, Goiás e Santa Catarina também registraram alta no número de novos processos, segundo dados compilados pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra). A pressa em entrar com as ações expressa uma tentativa de garantir que elas sejam julgadas pelas regras antigas, já que a reforma estipula que a parte perdedora terá que pagar as custas do processo. A estreia das novas regras, inclusive, já foi marcada pela decisão de um juiz de Ilhéus, na Bahia, que determinou que um trabalhador pagasse os custos de um processo que perdeu. Não há dúvidas de que, de fato, a Justiça do Trabalho está no centro da nova reforma.
Histórico
Criada em 1946 como ramo independente do poder judiciário brasileiro, a Justiça do Trabalho tem como principal finalidade reduzir os conflitos relacionados ao mundo do trabalho. Sua origem administrativa vem das comissões de conciliação do início do século 20, com a criação, em 1922, dos chamados Tribunais Rurais. No ano seguinte, surgiu a primeira iniciativa de âmbito federal, quando foi instituído o Conselho Nacional do Trabalho. Porém, somente após a Revolução de 1930, medidas mais efetivas foram tomadas para implantar uma Justiça do Trabalho com um papel mais abrangente.
Centralizando a condução de sua política modernizante da economia nacional em torno do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (criado em 1930), Getúlio Vargas deu os primeiros passos decisivos para a construção de uma legislação social trabalhista e de uma instância do poder público própria à solução dos conflitos entre patrões e empregados. Nesse período, que vai até 1943, foi elaborada toda a estrutura da Justiça e da legislação do trabalho. Em maio de 1932, foram criadas as Comissões Mistas de Conciliação, de funções ainda meramente conciliatórias, seguidas pelas Juntas de Conciliação e Julgamento, instituídas em novembro do mesmo ano. A Constituição de 1934 deu um passo decisivo ao estabelecer finalmente, em seu artigo 122, a criação da Justiça do Trabalho. Era preciso regulamentá-la, e isso aconteceu em 1941. Em 1943, na edição da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pelo Decreto-Lei nº 5.452, a Justiça do Trabalho ainda funcionava como uma justiça administrativa, vinculada ao poder Executivo. “Só mais tarde, na Constituição de 1946, a Justiça do Trabalho se torna órgão jurisdicional, do poder Judiciário”, explica Roberto Fragale, Professor Titular em Sociologia Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF) e juiz do Trabalho.
Após a Constituição Federal de 1988, a Justiça do Trabalho, que lidava com conflitos pensando nas figuras tradicionais do empregado e do empregador, ampliou essa lógica centrada no contrato. “Esse movimento coincide com o fato de que a Constituição, de maneira inédita, passa a contemplar os direitos sociais trabalhistas como direitos fundamentais”, lembra a vice-presidente da Anamatra, Noemia Porto. Esse processo culmina com a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, chamada de reforma do Poder Judiciário. “Passou-se a falar da competência da Justiça do Trabalho para acidentes de trabalho, para conflitos sindicais, enfim, pensar que essa competência especializada para diminuir conflitos sociais ficaria em torno das relações de trabalho, não só das relações de emprego”, afirma Noemia.
Instâncias
A porta de entrada dos processos trabalhistas é a 1ª instância, que abriga o maior número de juízes do trabalho. Essa é a parte da magistratura que realiza muitas audiências e atende mais diretamente o público – trabalhador, a empresa, os advogados. “A justiça que o cidadão mais acessa, e talvez a única que ele vai ver mais concretamente, é o primeiro grau, porque é onde quase 60% dos processos trabalhistas começam e terminam”, observa Noemia.
Já os 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) são compostos por desembargadores e representam a 2ª instância. “Quem quiser recurso acessa esses tribunais para que seja feita uma reanálise das provas”, esclarece a vice-presidente da Anamatra.
Já o terceiro grau da Justiça do Trabalho é uma espécie de instância extraordinária trabalhista, composta por 27 ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Eles analisam recursos especiais com critérios muito específicos, quando há necessidade de discutir a uniformização de jurisprudência nacional ou uma eventual violação à Constituição. “A partir daí, como cúpula do poder judiciário brasileiro – não só da Justiça do Trabalho, mas do judiciário total -, nós temos o Supremo Tribunal Federal que, de fato, julga algumas causas trabalhistas, aquelas que ele, Supremo, considera transcendentes”, explica Noemia.
Efetividade
De acordo com um estudo realizado pelo pesquisador André Campos, do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), a partir dos dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apenas 2% das queixas na Justiça do Trabalho são procedentes e estão ligadas a verbas rescisórias. “Cerca de quatro milhões de processos dão entrada a cada ano na Justiça do Trabalho e a ampla maioria deles são reclamações individuais. Somam-se a isso mais dois milhões que ficam de resíduo, que a Justiça do Trabalho não consegue julgar do ano anterior. E esse número cresce a cada ano”, afirma Campos. A vice-presidente da Anamatra, no entanto, contesta esse percentual. Ela explica que esses números se devem à peculiaridade da Justiça do Trabalho, que analisa vários pedidos em uma só causa. Isso significa que uma única ação trabalhista pode ter várias demandas – como férias, décimo terceiro, adicional de insalubridade, verba rescisória, indenização por perdas e danos -, mas não necessariamente o trabalhador terá ganho integral de todos os pedidos. E esse resultado de 2% a que o pesquisador do Ipea chega, segundo Noemia, diz respeito apenas às causas em que o trabalhador ganha tudo que pediu. “Num processo em que nós temos acúmulo de pedidos, é comum que, havendo procedência, ela seja uma procedência parcial”, argumenta.
Outra crítica trazida pela pesquisa de Campos diz respeito à relação custo-benefício para o Estado. Utilizando dados de 2015, ele mostra que o valor médio pedido em cada reclamação individual na Justiça do Trabalho era de R$ 4.494,56. O custo dessa ação para o Tesouro, segundo o estudo, ficava em R$ 4.092, enquanto a arrecadação que ela gerava para a União – por meio de crédito previdenciário, verba previdenciária ou crédito do imposto de renda, por exemplo – era de R$ 722. A vice-presidente da Anamatra, no entanto, considera um equívoco um cálculo que, na sua avaliação, mede serviços de natureza pública sob uma lógica de mercado privado. “É muito difícil trabalhar sob essa perspectiva. A justiça estadual também é cara, a Justiça Federal é cara, a Polícia Federal é cara, os fiscais são caros, o sistema de saúde é caro, a educação pública é cara. A Justiça do Trabalho é cara, mas o que se deve levar em consideração é o grau de maior ou menor de satisfação de uma prestação jurisdicional justa e o mais célere que se conseguir”, defende Noemia.
Outros dados do CNJ também ajudam a desmistificar algumas impressões sobre a Justiça do Trabalho. Primeiro, sobre o que seria um “excesso” de ações trabalhistas no Brasil. De acordo com os números, ela recebe cerca de 14% dos processos no país. “Chega à Justiça apenas uma parte das situações de descumprimento das obrigações. Veja que nessa questão das contas inativas do FGTS, a Procuradoria da Fazenda Nacional divulgou que cerca de 7 milhões de trabalhadores não tiveram depositados os valores nas suas contas. Se todos eles fossem buscar esse direito na Justiça, já seriam 7 milhões de ações. Mas o problema não estaria nas ações e sim nas empresas que não recolheram”, explicou Paulo Joarês, coordenador nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho do Ministério Público do Trabalho (Conafret/MPT), em entrevista ao Portal EPSJV em junho de 2017. E lamentou: “Ao invés de combater o descumprimento da lei, procura-se evitar que a pessoa que foi lesada busque a Justiça para ser reparado seu prejuízo”.
Os mesmos dados mostram que, em relação ao número de ações, a Justiça do Trabalho pode ser considerada a mais rápida do país. Enquanto na Justiça de maneira geral a média de processos não solucionados ao ano é de 73%, na Justiça do Trabalho esse índice é de 6,8%. Além disso, é a Justiça que mais concretiza conciliações: apenas no primeiro semestre de 2016, foram mais de 500 mil acordos, o que representou 38% do total de soluções.
Para Campos, os dados da sua pesquisa revelam a necessidade de se rediscutir o papel da Justiça do Trabalho no sistema de relações laborais, alertando para tempo e custo. A saída, na sua avaliação, é revalorizar o papel tanto dos sindicatos dos trabalhadores quanto de organizações por local de trabalho, como comitês de empresas, comissões de fábrica – instâncias, que segundo o pesquisador, existem em vários lugares do mundo. “Essas organizações têm uma função muito importante de mitigar conflitos no próprio local de trabalho, impedir que esse conflito tenha que ser resolvido por um custo absurdo”, explica Campos, lamentando que a reforma trabalhista brasileira esteja propondo a redução do papel dessas representações. Fragale, no entanto, questiona esse caminho. “Quando eu introduzo a discussão sobre mecanismos alternativos de conflito, começo a abrir o meu debate sobre quem mais pode dizer o direito além do juiz e essa medida parece caminhar, de uma forma quase inevitável, para a exaustão de quem recorre à Justiça do Trabalho”, indaga.
Noemia Porto lembra que o Brasil já teve essa experiência, sem sucesso. Segundo ela, a Lei 9.958, de 2000, acrescentou e alterou artigos à CLT, instituindo as Comissões de Conciliação Prévia, permitindo a execução de título extrajudicial na Justiça do Trabalho. “Imaginava-se que, com instâncias conciliatórias prévias, se diminuiria o grau de litigiosidade no campo do trabalho. Essa foi uma experiência absolutamente mal sucedida por causa dos abusos cometidos, que não favoreceram nem trabalhadores nem empregadores”, destaca. Posteriormente, o STF declarou inconstitucional a obrigatoriedade dessas instituições que, aos poucos, foram sendo esvaziadas. “Leis infraconstitucionais no Brasil não podem condicionar o acesso à justiça a instâncias prévias conciliatórias, porque a Constituição garante o acesso universal ao poder judiciário”, defende.