Corria o ano de 1989. O planeta havia completado uma volta ao redor do Sol desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela chamada ‘Constituição Cidadã’ no Brasil. Em Santos, litoral paulista, a prefeita Telma de Souza, eleita um mês após a promulgação da Carta Magna, chamou para ser seu secretário de Saúde David Capistrano da Costa Filho, médico-sanitarista que emergira como uma figura-chave na formulação teórica e na mobilização política da Reforma Sanitária.
A campanha vitoriosa de Telma teve a contribuição de outro médico, então trabalhador da rede municipal de saúde, e que após as eleições se integrou à nova gestão. Fabio Mesquita escolheu coordenar a primeira política municipal de enfrentamento à Aids do país, doença cujo crescimento começava a alarmar as autoridades sanitárias não só no Brasil, mas em vários países. Santos, que abriga o maior porto da América Latina, era então conhecida como a ‘capital brasileira da Aids’. Entre 1980 e 1992, a cidade registrou uma incidência de 217 casos da doença para cada 100 mil habitantes, segundo dados do Ministério da Saúde.
Foi nesse cenário que os santistas, inspirados por experiências internacionais bem-sucedidas no controle da infecção pelo vírus da hepatite B e do HIV entre usuários de drogas injetáveis e pelos ideais da Reforma Sanitária, propuseram o que viria a ser considerado o marco zero, no Brasil, de uma estratégia conhecida como redução de danos.
Definida atualmente pela Associação Internacional de Redução de Danos como “um conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados ao uso de drogas psicoativas em pessoas que não podem ou não querem parar de usar drogas”, o seu foco é a prevenção aos possíveis problemas causados pelo uso de drogas, e não ao uso em si. O que a coloca em rota de colisão com abordagens terapêuticas que pregam a abstinência como meta, e que não problematizam a política de criminalização das drogas e suas consequências severas para a saúde. A seguir contaremos um pouco mais desta história, que, entre avanços e recuos, completa 30 anos.
O começo
A redução de danos não desembarcou por aqui sobre um tapete vermelho. A experiência de Santos entrou para a história como o pontapé inicial desse debate, porque implementada mesmo ela não foi. Ironicamente, isso se deu por causa da atuação de uma instituição que se viu fortalecida pela nova constituição: o Ministério Público, que nesse primeiro ato da história da redução de danos fez o papel do vilão.
Para entender por que, é preciso saber que uma proposta central para a estratégia de controle da epidemia de Aids em Santos era a distribuição de seringas descartáveis aos usuários de drogas injetáveis. A ideia era evitar a contaminação pelo HIV através do compartilhamento de seringas, estratégia que a literatura científica e a experiência internacional já vinham apontando como eficaz. Fábio Mesquita, que atualmente mora em Mianmar, no sudeste asiático, onde trabalha para a Organização Mundial da Saúde (OMS), lembra que, na época, mais da metade dos casos de infecção por HIV na cidade era por uso de drogas injetáveis. “O Brasil, embora não produzisse cocaína, era um exportador importante através do porto de Santos”, explica. A localização privilegiada fez com que se estabelecesse ali um mercado consumidor da droga.
Os dados epidemiológicos apontavam que o compartilhamento de seringas entre usuários de drogas injetáveis vinha se tornando o principal fator de exposição ao vírus HIV no Brasil, e em São Paulo especificamente. Se em 1985 o estado registrou apenas 11 casos de transmissão do HIV entre usuários de drogas injetáveis – contra 182 casos ligados a relações sexuais entre homens –, apenas cinco anos depois houve uma inversão: foram 1.547 contaminações por compartilhamento de seringas contra 1.226 relacionadas a relações sexuais entre homens. A distribuição de seringas aos usuários e o recolhimento das usadas era tido pela gestão municipal como essencial para a redução dos índices de contaminação por HIV no segmento da população que, aos poucos, se tornava o mais vulnerável à infecção.
Mas a redemocratização do país não significou a revogação das leis de teor repressivo que vinham da ditadura empresarial-militar. Foi com base em uma delas – a Lei de Drogas, aprovada em 1976 – que o Ministério Público de São Paulo entrou na Justiça para impedir o programa municipal de troca de seringas. Fábio, o secretário de Saúde David Capistrano e a prefeita Telma de Souza foram processados criminalmente. O MP entendeu que eles violaram a lei então vigente, que previa penas de três a 15 anos de reclusão para quem “induz, instiga ou auxilia alguém a usar entorpecentes”. “Seria o mesmo que dizer que ao distribuir camisinha você está ajudando pessoas a fazer sexo”, ironiza Fabio, e completa: “Não estávamos ajudando as pessoas a usar drogas, até porque elas iriam usá-las de qualquer jeito. Estávamos tentando salvar vidas”. Os três foram inocentados das acusações, mas o programa acabou não acontecendo.
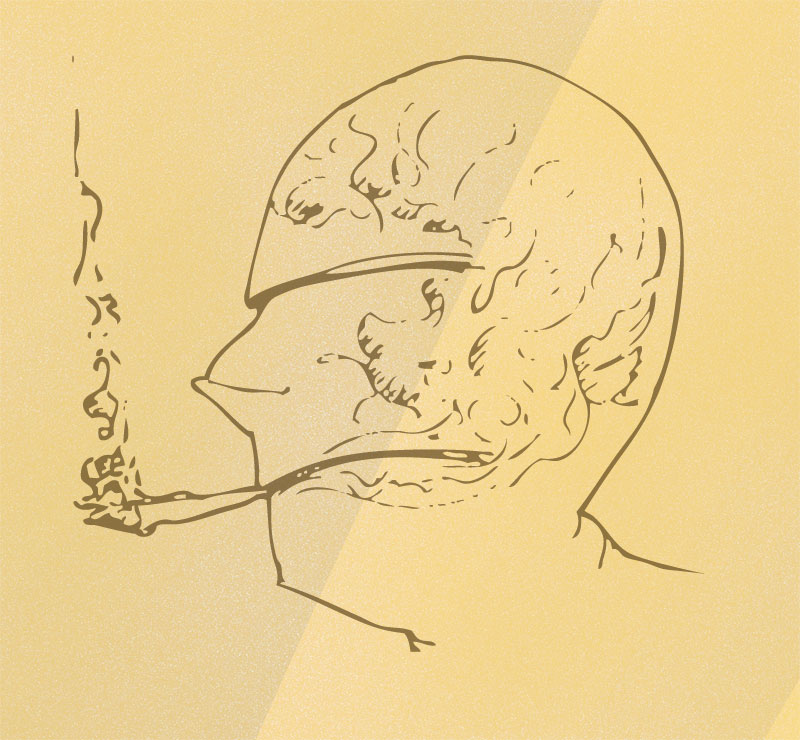 Primeiros programas a sair do papel
Primeiros programas a sair do papel
Ainda assim, em parte por causa da cobertura midiática que o caso ganhou, a experiência santista deu início a um debate nacional que aos poucos fez com que a redução de danos deixasse de ser caso de polícia e passasse a figurar na legislação e nas políticas públicas de saúde. No contexto internacional, as evidências da eficácia da estratégia no controle da proliferação do vírus HIV e da hepatite se tornavam irrefutáveis. Tanto que organismos multilaterais passaram a oferecer linhas de financiamento para programas de troca de seringas entre usuários de drogas injetáveis em vários países.
Em 1992, esse incentivo chegou ao Brasil: com recursos do Banco Mundial e do Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional de Drogas (UNDCP), a Coordenação Nacional de DST/Aids do Ministério da Saúde criou um projeto de prevenção do HIV entre usuários de drogas que incluiu programas de troca de seringas.
Foi com esse dinheiro que o Centro de Estudos e Terapia de Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia (Cetad/UFBA) implantou, em 1994, o primeiro programa de troca de seringas do país, em Salvador, onde, na época, 58% dos usuários de cocaína injetável eram soropositivos. Números semelhantes eram identificados em outras cidades que criaram programas similares a partir do financiamento do Ministério da Saúde: Santos, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Itajaí, no interior de Santa Catarina.
A institucionalização em âmbito acadêmico deu ímpeto para o avanço da redução de danos no país. Em dezembro de 1997 foi criada a Associação Brasileira de Redutores de Danos (Aborda), articulando várias iniciativas municipais ligadas a organizações não governamentais. Em 1998, além do Encontro Nacional de Redução de Danos, São Paulo sediou, em março, a 9ª Conferência Internacional de Redução de Danos. No mesmo mês o governo paulista publicou no Diário Oficial a regulamentação da primeira lei estadual permitindo a distribuição de seringas para usuários de drogas injetáveis.
Ampliação do escopo
O professor da UFBA Tarcísio Andrade, um dos coordenadores do Cetad, relata, em um artigo publicado em 2001, que já naquele momento o programa de Salvador apresentava algumas das marcas que se tornariam características da experiência brasileira com redução de danos. Uma era o trabalho de campo: Tarcísio conta que, a partir do momento que os trabalhadores do Cetad passaram a ir até os locais onde a droga era consumida para fazer a prevenção, o número de seringas trocadas aumentou consideravelmente.
A outra marca era a ampliação das ações desenvolvidas para além da troca de seringas: a partir de 1996, o programa passou a oferecer também colheres e água esterilizada para o preparo da droga, preservativos, orientação sobre sexo seguro e injeção da droga de forma segura, bem como encaminhamento para serviços de assistência social e saúde.
O professor-pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) Dênis Petuco afirma que essas características foram essenciais para a redefinição da redução de danos no país, para além das políticas de HIV/Aids – processo que começou a ficar evidente a partir da introdução do crack no Brasil. Dênis testemunhou essa transição em Porto Alegre, quando começou a trabalhar com redução de danos. “No início de 2003 as caixas coletoras de seringas voltavam dos territórios cheias. A partir de julho, a realidade já tinha mudado: íamos para campo e voltávamos com caixas contendo apenas cinco, seis seringas. O uso injetável estava sumindo rapidamente”, lembra.
Tarcisio de Andrade, em seu artigo, relata situação semelhante em Salvador, já nos anos 1990. O número de seringas trocadas pelo programa no bairro do Pelourinho caiu de 1.462 no segundo semestre de 1996 para apenas cinco na segunda metade do ano seguinte, ao mesmo tempo em que os trabalhadores do programa relatavam cada vez mais casos de usuários de cocaína injetável que passavam a fumar crack.
O crack não estava, portanto, ausente dos debates e das práticas dos primeiros redutores de danos brasileiros. A oferta de protetores labiais para cicatrização de ferimentos na boca causados pelo consumo da droga, diminuindo o risco de infecções, é um exemplo de ação implementada em cidades como São Paulo e Porto Alegre no período. Mas a falta de evidências, no caso do crack, de que o compartilhamento de equipamentos de uso pudesse ser um vetor para transmissão da Aids e da hepatite alimentou questionamentos sobre a necessidade de o Ministério da Saúde continuar destinando recursos para a redução de danos. “Para os redutores de danos, a ideia de que a experiência brasileira deveria acabar porque não tinha mais compartilhamento de seringa não fazia sentido. Eles faziam um conjunto de atividades de promoção da saúde e da cidadania entre os usuários de drogas que seguiam sendo válidas no caso do crack”, avalia Dênis. Ele foi um dos coordenadores de um seminário sobre os 30 anos da redução de danos no Brasil realizado pela EPSJV/Fiocruz no início de outubro.
A psicóloga Christiane Sampaio, do conselho consultivo da Aborda, foi uma das convidadas do evento. Ela integrou um daqueles primeiros programas de troca de seringas financiado pelo Ministério da Saúde, implantado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Nepad/UERJ) no final da década de 1990. E conta que a distribuição de seringas era apenas uma dimensão do trabalho dos redutores de danos. “Fomos começando a entender que tínhamos dado conta de algo a que nunca ninguém tinha dado muita atenção, que era o contexto mais amplo de vida dos usuários de drogas. Aos poucos fomos construindo respostas mais efetivas e humanizadas”, diz.
Do ponto de vista institucional, a ampliação do escopo das práticas de redução de danos se consolida com a aprovação da Política para Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde, em 2003. É ela que inscreve a redução de danos como estratégica para o cuidado nos serviços da atenção básica no SUS, principalmente nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD), criados por uma portaria de 2002 que deu materialidade à lei da Reforma Psiquiátrica, aprovada um ano antes.
Para Dênis Petuco, as experiências construídas pela redução de danos ao longo da década de 1990 preencheram uma lacuna em termos de diretrizes e técnicas de cuidado voltadas aos usuários de drogas, que a Reforma Psiquiátrica até então não conseguira preencher. “A Política reconheceu pela primeira vez algo que os redutores sabiam, mas que os documentos oficiais ainda não reconheciam: que a redução de danos não era um mero conjunto de técnicas de prevenção do tipo ‘use a seringa assim’. Era uma ética de cuidado das pessoas que usam drogas”, afirma.
A institucionalização da redução de danos se aprofunda nos anos seguintes. Em 2005, o Ministério da Saúde publica a portaria 1.028, que regulamenta as práticas. Já em 2006, é aprovada uma nova lei de drogas, que considera como atividades de atenção aos usuários “aquelas que visem à melhoria da qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas”.
Mas nem tudo eram flores, como aponta Maria Angélica Comis, coordenadora-geral do Centro de Convivência É de Lei, em São Paulo, uma das primeiras organizações a trabalhar a redução de danos entre usuários de crack no país. Segundo ela, por mais que a estratégia tivesse se institucionalizado nas políticas públicas, ela ainda “tinha um quê de marginal”. “Em 2005, por exemplo, o Ministério da Saúde financiou um projeto de distribuição de cachimbos nas cenas de uso de crack de São Paulo. E o que percebemos é que a Guarda Civil Metropolitana retirava os cachimbos e quebrava. Era uma política institucionalizada mas ainda marginal, porque batia de frente com valores morais na nossa sociedade”, conta Maria Angélica.
Segundo ela, a nova lei de drogas também não teve o impacto esperado. “Temos um país extremamente conservador, moralista e racista. Por mais que a lei tenha mudado, e as pessoas que fossem usuárias não seriam mais privadas da liberdade – o que seria positivo para a redução de danos – ,a atuação da polícia não mudou. Pessoas que são usuárias acabam presas como traficantes, principalmente nos bairros pobres”, pontua.
Terceira geração
As dificuldades não impediram que a redução de danos mantivesse uma trajetória ascendente no campo das políticas públicas no Brasil. A partir da segunda década dos anos 2000, a estratégia ingressa no que Dênis Petuco chama de sua terceira geração, quando passa a nortear programas abrangentes, que articularam políticas em várias áreas no cuidado a usuários de álcool e outras drogas em situação de extrema vulnerabilidade social, principalmente relacionados ao uso do crack.
É o caso do Programa Atitude, criado em 2011, em Pernambuco, como estratégia para a redução da violência no estado, com foco nas cenas de uso de crack. Entre as ações estava a atuação de equipes de redutores de danos nas cenas de uso, os Centros de Acolhimento e Apoio, que ofereciam banho, alimentação, pernoite e atividades socioeducativas, bem como a previsão de aluguel social aos beneficiários do programa. “Uma grande estratégia de redução de danos é a moradia”, assinala Maria Angélica, e completa: “Quando a política pública oferece moradia para as pessoas em situação de rua, elas se estabilizam mais e a consequência é a melhora do autocuidado, com redução no consumo de drogas”.
A oferta de moradia foi uma característica de um programa lançado três anos depois, no município de São Paulo, cuja região central na época chamava atenção nacional por suas enormes cenas de uso de crack – a chamada ‘cracolândia’. O ‘De Braços Abertos’, envolvia várias secretarias e, além de moradia em hotéis no centro da cidade, oferecia alimentação, geração de trabalho e renda, bem como serviços de saúde, assistência social e educação para usuários de drogas em situação de extrema vulnerabilidade. “Tínhamos quase 440 pessoas dentro do programa e 80% delas diminuíram o consumo de crack. Foram estabilizadas, retomaram o vínculo familiar, faziam acompanhamento de saúde mental e na atenção básica”, diz Maria Angélica, que trabalhou no programa.
No período houve avanços também na incorporação da redução de danos na atenção básica, como uma diretriz central do programa Caminhos do Cuidado, realizado pelo Ministério da Saúde entre 2013 e 2015. O programa, que contou com a parceria da Rede de Escolas Técnicas do SUS (RET-SUS) e teve coordenação executiva do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), formou mais de 230 mil agentes comunitários de saúde, auxiliares e técnicos de enfermagem no cuidado de pessoas com transtorno mental e com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.
 Presente de grego
Presente de grego
A despeito desta trajetória, a estratégia completa 30 anos recebendo um ‘presente de grego’. Por meio do decreto 9.761, de abril deste ano, o governo federal aplicou um dos mais duros golpes à redução de danos desde que o Ministério Público de São Paulo impediu o programa de troca de seringas em Santos, em 1989. O documento, que instituiu a ‘nova’ Política Nacional sobre Drogas, tem na promoção da abstinência das drogas lícitas e ilícitas uma de suas diretrizes centrais.
O texto determina ainda o estímulo – “inclusive financeiro” – das comunidades terapêuticas, entidades majoritariamente vinculadas a instituições religiosas que empregam métodos que vão na contramão das práticas baseadas na redução de danos, como a própria promoção da abstinência, além de questões como o confinamento dos usuários para o tratamento.
Um processo de desmonte que, justiça seja feita, tem início bem antes, como lembra Fabio Mesquita. “No primeiro governo Dilma [Rousseff] já começamos a ter alguns retrocessos”, lamenta. A balança começou a pesar para o outro lado em 2011, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revisou as normas para o funcionamento das comunidades terapêuticas, tornando mais fácil que elas obtivessem financiamento público para tratamento de dependentes químicos, sem que tivessem que contar, por exemplo, com equipes multiprofissionais, como nos Caps-AD.
Em um contexto político diferente daquele em que a redução de danos se institucionalizou, as mudanças foram vistas como um aceno do Executivo para setores evangélicos cuja influência política começava a crescer, na esteira do aumento da bancada religiosa no Congresso. Ainda no final de 2011, o governo lançou o Programa ‘Crack, é Possível Vencer’ que, ao mesmo tempo em que previu incentivos aos Caps-AD e aos consultórios de rua, também reconheceu as comunidades terapêuticas como espaços de tratamento passíveis de receber recursos do programa, para o qual o governo destinara R$ 4 bilhões.
Em 2015 foi criada a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas e as entidades encontraram interlocução privilegiada dentro do Ministério da Justiça. Naquele ano, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad) aprovou resolução regulamentando as comunidades terapêuticas no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Seria também o Conad que, em março de 2018, aprovaria a resolução reorientando a política de drogas no sentido da promoção da abstinência e das comunidades terapêuticas, que ganhou força a partir da edição do decreto 9.761/19.
A guinada conservadora no cenário político brasileiro teve reflexos negativos para a redução de danos também em nível municipal. O exemplo mais notório é o de São Paulo, onde a eleição de João Doria para prefeito, em 2016, significou o fim do programa ‘De Braços Abertos’. Ali, uma das propostas para acolher os beneficiários do programa após o fechamento dos hotéis que ofereciam moradia aos usuários de crack em situação de rua no centro da cidade foi justamente a internação em hospitais psiquiátricos conveniados à prefeitura. “O que aconteceu foi que as pessoas se esparramaram pela região central. Hoje temos em torno de 50 cenas de uso de crack em São Paulo”, calcula Maria Angélica Comis.
A escalada das comunidades terapêuticas deu passos importantes também durante o governo Michel Temer. Em 2017 a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) – que reúne representantes do Ministério da Saúde e dos conselhos nacionais de Secretários de Saúde (Conass) e de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) – aprovou uma resolução que incluiu as comunidades terapêuticas entre os serviços que compõem a Rede de Atenção Psicossocial (Raps), colocando-as, na prática, no mesmo patamar dos Caps-AD.
Mas é em 2019 que essa guinada atinge outro patamar, com a publicação do decreto instituindo a ‘nova’ Política Nacional de Drogas. Pouco antes, em março deste ano, o Ministério da Cidadania anunciou que ampliaria o número de vagas custeadas com recursos públicos nas comunidades terapêuticas de 6,6 mil para 10,8 mil, ao custo de R$ 153 milhões.
Foram muitos os reveses, mas é fato que, 30 anos depois, a redução de danos é parte de um arcabouço jurídico e normativo que, pelo menos por enquanto, continua em vigência. O professor-pesquisador da EPSJV/Fiocruz Dênis Petuco ressalta também o conjunto de práticas construídas pelos redutores de danos ao longo dessas três décadas, que se consolidaram como parte do cotidiano dos trabalhadores de áreas como saúde, assistência social e direitos humanos. “É impossível acabar com a redução de danos com um ‘canetaço’”, conclui.
*Crédito das imagens: Marcelo Maffei, para o centro de convivência É de Lei.

