O plano parece fácil. Com a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 55 (sancionada em dezembro como EC 95), limitam-se os gastos primários do Estado. Com uma nova reforma da previdência, mais restritiva, diminui-se ainda mais esse custo, reduzindo a política social responsável pela segunda maior fatia do orçamento público, atrás apenas do pagamento da dívida que, por sinal, permanece intocável. Em paralelo, lança-se um grande Programa de Parcerias de Investimento, que aposta na distribuição de “incentivos corretos para a iniciativa privada” como caminho para promover o crescimento econômico e gerar emprego. A fórmula vem sendo aplicada à risca. Mas, lembrando a anedota popular, há quem ache que talvez tenha faltado “combinar com os russos”.
Em tramitação no Senado, depois da aprovação pela Câmara dos Deputados, a PEC do teto de gastos tem sido contestada nas ruas, com manifestações em várias cidades e escolas ocupadas por estudantes em todo o país. Além da pressão social e das avaliações críticas de que essas medidas de ajuste fiscal podem piorar o cenário de crise econômica em vez de resolvê-la, há quem aposte também numa batalha jurídica, já que não faltam pareceres que argumentem sua inconstitucionalidade. A reforma da previdência, considerada pelo governo a principal iniciativa para a “redução estrutural das despesas públicas” já promete uma nova onda de mobilizações contrárias. Nesta matéria você vai ver que igualmente em aberto está a outra ponta da fórmula: lançado em maio por meio de uma Medida Provisória (727) e tornado lei (13.334) em setembro, o Programa de Parceria de Investimento (PPI), principal aposta do governo para fazer a economia crescer e gerar empregos, também traz questionamentos de toda ordem. “Os cálculos [do governo] são muito otimistas”, resume Marco Antonio Rocha, professor da Unicamp, que estudou a fundo o processo de privatização que o Brasil viveu nos anos 1990.
De concreto, até o fechamento desta reportagem, tinha sido lançado um primeiro pacote do programa, chamado ‘Projeto Crescer’, com 34 projetos de privatização e, principalmente, concessão, já com alguns editais publicados. “Na verdade, na década de 1990 já se perdeu boa parte dos ativos produtivos que o Estado tinha. Não tem muito mais para vender. Agora é o que sobrou: basicamente concessões de aeroportos, estrutura portuária, pouca coisa de ferrovia – que já é expansão dos investimentos do PAC [Programa de Aceleração do Crescimento] – e as distribuidoras do sistema Eletrobrás”, explica o professor.
Marco Antonio lembra que ainda podem entrar nessa relação algumas empresas estaduais como contrapartida da renegociação da dívida dos estados com o governo federal. Isso porque o Projeto de Lei 257, já aprovado na Câmara e em tramitação no Senado, autoriza a União a “receber bens, direitos e participações acionárias” em empresas estatais estaduais, que depois seriam privatizadas. Em matérias e colunas de opinião dos grandes jornais, especula-se também que Correios, Infraero, Caixa Econômica e até a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que administra diversos hospitais universitários federais, também entrariam na lista do PPI. O Secretário-Executivo Adjunto do Projeto Crescer, Adalberto Vasconcelos, no entanto, diz que, neste momento, as únicas empresas confirmadas para venda são as de energia elétrica.
Como crescer?
Retomar o crescimento econômico é uma promessa – ou um desejo – presente em todas as falas de especialistas e governo, como remédio para sair da crise. Em termos concretos, isso significa mais ou menos o seguinte: as empresas passam a produzir mais; para isso, elas contratam mais gente; com o aumento da população empregada, o consumo também se amplia; e, ao longo de todo esse processo, o Estado arrecada mais impostos. Mas há também impactos menos diretos. E é aqui que entra o PPI. “Se a gente melhora uma estrada, isso reduz o custo do transporte, portanto o preço final do produto fica mais barato, melhora a capacidade de consumo, e assim por diante. Sempre o investimento é a principal locomotiva para sustentar o crescimento da economia e do emprego”, exemplifica Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (Dieese). Parece um círculo, e é. A dúvida – ou a divergência – principal é sobre quem bota essa roda para girar.
Coerente com a defesa do ajuste fiscal proposto pelo governo Temer, o discurso que sustenta o PPI é de que o motor é a iniciativa privada. Ao Estado caberia criar um ambiente favorável e estável, que transmita confiança aos investidores. Para especialistas ouvidos pela Poli, essa concepção, anunciada como a grande novidade do PPI em relação às concessões e parcerias público-privadas do governo Dilma Rousseff, traz entraves ao investimento e pode ser danosa para a população usuária dos serviços e para a economia como um todo.
O diretor do Dieese não tem dúvida: o motor tem que ser o Estado. “No caso da energia elétrica, por exemplo: quem constrói a usina é a iniciativa privada, mas quem financia aquela usina é o setor público. Vai ver qual estrada foi feita pelo capital privado... O aporte inicial é sempre do setor público”, explica. Por isso, ele vê como um obstáculo ao crescimento econômico – e consequentemente à geração de emprego – a “queda substantiva do investimento público” que estaria se dando já desde o segundo governo Dilma e se consolidaria agora no governo Temer.
O governo reconhece as dificuldades da conjuntura econômica, mas acredita que as ‘novidades’ do PPI vão contribuir para atacar a falta de credibilidade do país frente aos investidores. “Nós estamos com uma crise econômica no país mas, sobretudo, com uma crise de credibilidade para a área de infraestrutura”, diz Adalberto. E completa: “Não é de uma hora para outra que vai haver mudança do cenário, mas, em virtude do resgate da credibilidade, a infraestrutura já começa a produzir frutos”. Ele cita exemplos de problemas que geravam a tal “insegurança”: projetos que foram prometidos e não saíram do papel e outros cujo modelo seria fundamentado num “marco legal frágil”. No rastro dessa maior confiança dos investidores, uma das principais – e mais polêmicas – novidades do PPI é a antecipação da licença ambiental, que aposta numa mudança da legislação, em tramitação no congresso. “[O empreendimento] pode paralisar na parte ambiental, na parte jurídica, no Ministério Público, nos Tribunais de Contas... Então, agora, [a empresa] só vai investir em estudos para decidir se vai ou não participar [do leilão] depois que sair o edital”, explica. Clemente concorda com a importância de o governo ter regras claras para atrair o capital privado. Mas relativiza a aposta: “Não acredito que a iniciativa privada fará isso somente porque estamos fazendo uma série de regras mais interessantes entre aspas. Não me parece que haja experiência concreta capaz de garantir que essa iniciativa terá sucesso”, diz.
O professor Denis Gimenez, da Unicamp, concorda. “O Estado brasileiro sempre foi protagonista do desenvolvimento”, atesta, destacando que isso sofreu um revés nos anos 1990, principalmente nos governos Fernando Henrique Cardoso, e agora novamente se retrai. Marco Antonio ressalta que esse “desmonte do Estado interventor” trouxe – e ainda traz – dificuldades para a ação pública direta na área de infraestrutura. Um exemplo, diz, foram as tentativas – fracassadas – do governo Dilma de fazer investimento estatal nas ferrovias através da Valec, empresa pública. “De certa forma, o governo perdeu conhecimento de intervir na infraestrutura pública, de realizar grandes projetos que a gente tinha no período nacional-desenvolvimentista, porque boa parte do Estado foi desmontado”, diz, acrescentando que essa tentativa implicou também um grande custo político, em virtude da visão negativa que se formou sobre o aumento do tamanho do Estado. “O tempo foi passando e o investimento público não saía. A saída mais rápida foi adotar o pacote de concessão”, resume.
Mais rápida, no entanto, não quer dizer mais econômica para os cofres públicos. “Existe muito discurso, mas muito pouco dado sobre se o Estado é ineficiente em relação à iniciativa privada na gestão desse processo. Nas concessões, o risco é sempre comprado pelo Estado e muito pouca contrapartida é pedida em troca. O discurso é sempre de que o Estado não tem dinheiro para investir, mas isso é complicado porque, na verdade, é ele que financia boa parte do fluxo de investimento das empresas”, analisa Marco Antonio.
Mais ou menos Estado?
No caso específico do PPI, o governo já anunciou que disponibilizará R$ 30 bilhões para financiar as empresas que tiverem interesse de participar dos leilões. Essa é a contradição – embora não seja nenhuma invenção do PPI: defende-se que não há recursos para que o governo toque diretamente os investimentos, mas é dos bancos públicos que sai o dinheiro que as empresas privadas vão usar para fazer os mesmos empreendimentos.
Não se trata de recursos orçamentários. O dinheiro que vai financiar o investimento privado em infraestrutura não disputa o bolo da arrecadação de impostos de onde sai o dinheiro para políticas como saúde e educação. Além disso, trata-se de empréstimo, o que significa que, teoricamente, em algum momento esse dinheiro deve ser devolvido.
Teoricamente. Na prática, a coisa é um pouco mais complicada. No PPI, as empresas que participarem dos leilões precisarão entrar com apenas 20% de dinheiro próprio. Os outros 80% serão financiados com recursos de bancos públicos. Do total disponível inicialmente, R$ 18 bilhões virão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e R$ 12 bilhões sairão do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FI-FGTS). “O volume será mensurável de acordo com o apetite dos empresários”, anunciou num evento o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. A previsão é de que o Banco do Brasil também libere financiamento, mas o volume ainda não foi informado. Do total financiado por cada banco público, uma parte será em empréstimo direto, mas o governo quer incentivar principalmente o fomento por meio da emissão de debêntures de infraestrutura. E é nesse meio de campo que a prática se distancia da teoria.
 Funciona assim: a empresa participa de um leilão e ‘adquire’ uma concessão (de uma rodovia, ferrovia ou aeroporto, por exemplo). Mas, em vez de pagar em dinheiro – pelo direito de ‘explorar’ aquela obra concedida –, paga com títulos que correspondem a dívidas que ela tem no mercado. Em outras palavras: para quitar a ‘compra’ da concessão pública, ela ‘vende’ parte da sua dívida privada, representada em papéis que são chamadas de debêntures, a terceiros. Quem compra esses títulos, na verdade, faz um investimento, já que, ao final de um período previamente determinado, deve receber de volta o dinheiro inicial acrescido de juros. Trata-se, no entanto, de um investimento de risco.
Funciona assim: a empresa participa de um leilão e ‘adquire’ uma concessão (de uma rodovia, ferrovia ou aeroporto, por exemplo). Mas, em vez de pagar em dinheiro – pelo direito de ‘explorar’ aquela obra concedida –, paga com títulos que correspondem a dívidas que ela tem no mercado. Em outras palavras: para quitar a ‘compra’ da concessão pública, ela ‘vende’ parte da sua dívida privada, representada em papéis que são chamadas de debêntures, a terceiros. Quem compra esses títulos, na verdade, faz um investimento, já que, ao final de um período previamente determinado, deve receber de volta o dinheiro inicial acrescido de juros. Trata-se, no entanto, de um investimento de risco.
Mas quem compra? “Geralmente, é uma operação casada. A empresa emite o papel, mas na verdade ele não vai ser lançado no mercado diretamente. O BNDES se torna avalista: compra esse papel e relança no mercado secundário, dando garantia a ele. Se a empresa der calote, é o BNDES quem paga”, explica Marco Antonio, lembrando um caso ocorrido em 2011 quando, para não ficar no prejuízo, o BNDES teve que trocar debêntures não pagas por ações da JBS, tornando-se acionista de 35% da empresa.
Com o PPI, o governo Temer promete implementar mudanças que diminuiriam o subsídio público, criando condições de financiamento mais próximas do mercado, e evitando prejuízo dos investidores. O discurso é de que no passado houve um excesso de “intervenção” do governo. Mas há quem duvide da mudança. “Já existe um histórico grande de financiamento por debêntures que resultou na necessidade de intervenção do BNDES como avalista. É difícil pensar nessa operação financeira sem a presença de um banco público como avalista e como comprador inicial dessas debêntures porque não vai haver mercado para isso tudo”, questiona Marco Antonio.
O custo da não-intervenção
Na linha de se diferenciar do que considera um caráter “interventor” do governo anterior, a principal crítica que a equipe do PPI tem feito à experiência passada de concessão é o fato de o valor das tarifas dos serviços – o pedágio da rodovia ou as taxas dos aeroportos, por exemplo – ter sido definido previamente, o que teria gerado preços artificiais, que as empresas não conseguiram honrar oferecendo bons serviços. “Preços não são fixados em gabinete”, repetiu o Secretário-Executivo do PPI, Moreira Franco, em eventos e entrevistas aos diversos jornais. Marco Antonio explica: “Essa discussão é sobre o que se chama de modicidade tarifária, que é o seguinte: quem oferecer a menor tarifa, leva. O governo está indicando que deve mudar isso para outra regra. Então, o que o governo pode fazer é abrir a porteira, não criar um marco regulatório antes do leilão. Significa voltar ao sistema dos anos 1990. Não é à toa que a gente tem uma das tarifas de telefonia e energia mais caras do mundo”.
Analisando o passado recente, Denis, da Unicamp, concorda que faltou “flexibilidade” às negociações do governo Dilma sobre a taxa de retorno dos empreendimentos, o que, na sua opinião, acabou “enroscando” o andamento dos projetos. Ele reconhece, no entanto, que essa é uma equação difícil de fechar porque, sem controle da lucratividade, as concessões podem mesmo gerar serviços com tarifas muito altas para o consumidor.
O governo se defende. “Não adianta fazer uma concessão de rodovia com tarifas de R$ 2, R$ 3, e não ter um serviço adequado prestado ao usuário. Por outro lado, em algumas concessões, principalmente nas estradas estaduais de São Paulo, a tarifa chega a R$ 15. O que você tem que fazer é uma tarifa que remunere o investidor adequadamente para que ele tenha condição de realizar os investimentos necessários”, diz o secretário-adjunto.
A questão é que, para o governo, o PPI é parte de uma estratégia que caminha junto com o corte de gastos. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo no dia 14 de maio de 2016, Moreira Franco, foi categórico: “O governo não tem mais dinheiro. Vamos buscar a modelagem necessária em cada projeto para que não tenha subsídio”. Em reportagem do mesmo jornal no dia 14 de setembro, após o lançamento do Projeto Crescer, ele foi perguntado se os “consumidores serão prejudicados a partir de agora” e desconversou: “Nós temos de ter consciência de que os preços de tarifas não são fixados em gabinetes, o artificialismo tarifário gerou um brutal buraco fiscal”. O próprio jornal conclui: “Ou seja, o consumidor pode ser obrigado a pagar tarifa maior”.
Marco Antonio lembra que esse precisa ser um alerta não só para o consumidor individual mas para “toda a cadeia produtiva brasileira”. “Quando sobe a taxa de aeroporto, por exemplo, temos que pensar que por lá não passa só gente, passa também carga. Estamos, portanto, falando de aumentar o custo de frete. Rodovia e ferrovia a mesma coisa. Você pode gerar uma infraestrutura caríssima. Quando a privatização é mal feita, a conta sai cara: para o consumidor e para a competitividade da indústria brasileira”, analisa.
Desnacionalização
Ressuscitados dos anos 1990, livre mercado e não-interferência estatal parecem ser o lema da vez. Essa opção, somada à crise econômica e à crise política que o país atravessa – com grandes empresas envolvidas na Operação Lava Jato –, resultou num programa que todos os analistas ouvidos pela Poli reconhecem como voltado para o capital estrangeiro. Mais uma coincidência com o auge das privatizações no Brasil, na década de 1990. Só que, segundo Marco Antonio Rocha, naquele momento era mais fácil atrair esse capital, porque havia um fluxo razoável de investimento dos países centrais para a periferia do mundo. E, mesmo assim, diz, ele não veio como se esperava.
Por isso, mesmo com as facilidades que podem ser oferecidas, o professor da Unicamp tem muitas dúvidas sobre quem vai embarcar nesse pacote de concessões. As empresas brasileiras, diz, não estão em condições de investir. “Com uma grande parte das construtoras a gente não tem ideia do que vai acontecer, porque depende da postura dos acordos de leniência da Lava Jato. Outra questão é o nível de endividamento do setor privado nacional, sobretudo a indústria de base e a construção civil”, atesta. E conclui: “Eu acho muito pouco provável contar com um grande capital brasileiro”.
O governo reconhece o cenário difícil. “A gente sabe que tem alguns investidores nacionais com dificuldade de investir no país, por isso a gente quer diversificar. Não é razoável que, num mercado tão grande como o brasileiro, e que precisa investir em infraestrutura, a gente fique na mão de cinco, dez, 15 empresas”, diz Adalberto. E aponta o caminho: “A gente está com foco de trabalhar com médios investidores – aí você começa a trabalhar com construções menores para possibilitar um fomento da maior concorrência, de consórcios, e, sobretudo, com a perspectiva de chamar investidores estrangeiros para o país”. Para isso, ele destaca duas mudanças trazidas já na primeira resolução do PPI: os editais serão publicados ao mesmo tempo em português e inglês e o prazo dos editais foi ampliado de 45 para no mínimo 100 dias com o objetivo de dar mais tempo aos investidores estrangeiros. “A gente está sendo procurado direto por investidores internacionais elogiando essas medidas e querendo investir no país”, garante.
Especialistas ouvidos pela Poli alertam para alguns riscos importantes de se apostar no crescimento econômico a partir do capital internacional. Para Denis Gonzalez, essa opção, junto com a política macroeconômica (principalmente os juros altos) e com o processo em curso de “derrocada das grandes empresas nacionais”, aponta uma “forte tendência à desnacionalização, com repercussões, inclusive, sobre a estrutura do emprego”. “É, no mínimo, uma estratégia muito arriscada”, analisa.
Tentando aprender com o processo de privatização da década de 1990, Gustavo Gindre, pesquisador da área de comunicação, ressalta o que considera um “erro estratégico” na venda das empresas de telecomunicações para o capital internacional. “Começou no governo Dilma e deve terminar em 2017 a colocação do primeiro satélite brasileiro no espaço porque, desde a privatização, todos os nossos satélites passaram a ser estrangeiros. A banda X, que é utilizada para conversas militares no Brasil, passa por satélite estrangeiro. É surreal”, diz.
Marco Antonio também se remete à experiência passada para chamar atenção para os efeitos da entrada de capital estrangeiro especificamente no setor de serviços. Ele explica: “Quando você privatiza [para grupos internacionais] siderúrgicas, metalúrgicas – enfim, empresas que produzem bens –, esses bens podem ser vendidos. Então, na melhor das hipóteses, você espera que esses bens possam ser exportados e, assim, gerem um fluxo de entrada de dólar no país que, de alguma forma, compense o fluxo de dólar que essa empresa estrangeira está mandando para fora como remessa de lucro. Mas quando você privatiza, por exemplo, uma empresa do sistema Eletrobras, é diferente porque energia elétrica não é exportável da mesma forma. Então, você está o tempo inteiro gerando um fluxo de remessa de dólar para o exterior que não é compensado por nenhum tipo de exportação”. No caso de venda para empresas nacionais, diz, não existe nada a ser compensado porque “ninguém vai trazer dólar nem remeter lucro para fora”.
Mesmo assim, olhando o cenário internacional, Marco Antonio é pouco otimista sobre o interesse desses investidores. “A Europa também está numa situação bem complicada. Dificilmente vai-se conseguir trazer capital europeu e norte-americano para cá. O que o governo está contando é com o capital chinês”, arrisca. E, segundo ele, a experiência mostra que, ao investir em outro país, os chineses costumam levar ‘de casa’ tudo que precisam. “Até o parafuso”, ilustra, explicando que o problema é que, assim, não se dinamiza a economia local nem se gera empregos. “Se é para trazer capital [estrangeiro], é preciso que ele invista realmente no Brasil, gerando demanda industrial aqui”, explica. O secretário-adjunto do Projeto Crescer, no entanto, nega o foco. “Não estamos à procura só de investidores chineses”, diz, contando que os projetos na área de ferrovias, por exemplo, têm atraído o interesse também de russos, italianos e espanhóis.
Lista de desejos
Já para o diretor do Dieese, o capital internacional está, de fato, comemorando as novas regras do PPI – mais flexíveis, com menos intervenção do governo. E mais do que isso: está aproveitando um ambiente propício a fazer mais e mais exigências. “Para você ter uma ideia, a presidente Dilma, de forma que eu acho equivocada, lançou a parceria público-privada dela e propôs que, nos casos em que as empresas tinham certeza absoluta de ganho no investimento, elas tivessem uma taxa de lucro de 5% a 7%. As empresas não vieram. Agora, ouvi um fundo [de investimento] dizer que tem dinheiro para investir no Brasil e que espera uma taxa de retorno de 20%. Quatro vezes mais do que Dilma colocou lá atrás!”, exemplifica Clemente.
Num seminário sobre o programa de concessões promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo jornal Valor Econômico no dia 8 de novembro, o presidente do Bank of America para a América Latina, Alexandre Bettamio, apresentou um conjunto de propostas para incentivar a participação dos bancos privados como financiadores dos investimentos. De acordo com matéria do Valor, entre as demandas está a isenção de imposto de renda. “O que eles estão dizendo é: ‘se eu aplicar na dívida interna, tenho isenção de imposto de renda, então, para investir em infraestrutura eu também deveria ter’”, explica o economista Rodrigo Ávila, da Auditoria Cidadã da Dívida.
O diretor do Dieese alerta, no entanto, que as demandas das empresas – e principalmente do capital internacional – para comparecerem à chamada de investimentos vão além. “Eles querem que medidas como a PEC do teto de gastos do governo e a reforma da previdência sejam aprovadas, querem garantia de que não haverá aumento de impostos”, analisa. Nada que destoe do discurso do governo, que tem condicionado o crescimento econômico a essas medidas de ajuste fiscal.
Essa relação direta, no entanto, está longe de ser consensual. “Do ponto de vista do crescimento econômico, essas medidas são inócuas”, garante Denis Gonzalez, exemplificando: “Aumentar a idade de aposentadoria para 65 anos tem efeito negligenciável sobre a retomada dos investimentos e do crescimento. Acho bastante duvidoso que se tenham evidências empíricas de que projetar resultados previdenciários para daqui a 20 anos pode trazer ânimo para os empresários voltarem a investir no Brasil”. Para o economista, o efeito concreto dessas reformas será “aumentar a penúria da população que já está sofrendo com o desemprego”.
Para Rodrigo Castelo, também economista e professor da Uni-Rio, essas medidas promovem uma verdadeira “pilhagem” nos poucos mecanismos de defesa que os trabalhadores ainda têm. Por isso, ele não acredita no verdadeiro esforço do governo para fazer o país crescer. “Você pode ter um aumento das taxas de acumulação capitalista sem crescimento econômico. Já foi feito lá no governo Fernando Henrique. E é o que se está tentando agora”, diz, explicando que o próprio programa de privatizações feito nos anos 1990 “não aumentou o fluxo de dinheiro para as áreas sociais” nem “dinamizou a economia”, que cresceu em média apenas 2% ao ano durante os dois mandatos.
E emprego, vai ter?
Todos esses percentuais, e a própria ideia de ‘crescimento econômico’, são abstratos demais para a maioria da população. Por isso, o PPI, como também as medidas de ajuste fiscal, aparece sempre justificado pela urgência de se gerar emprego. E poucas coisas são tão concretas no atual momento de crise no Brasil. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), do IBGE, mostram uma taxa de desemprego de 11,8% em outubro de 2016, totalizando cerca de 12 milhões de brasileiros desempregados. Terá o programa de privatizações e concessões do governo Temer capacidade para reverter esse quadro?
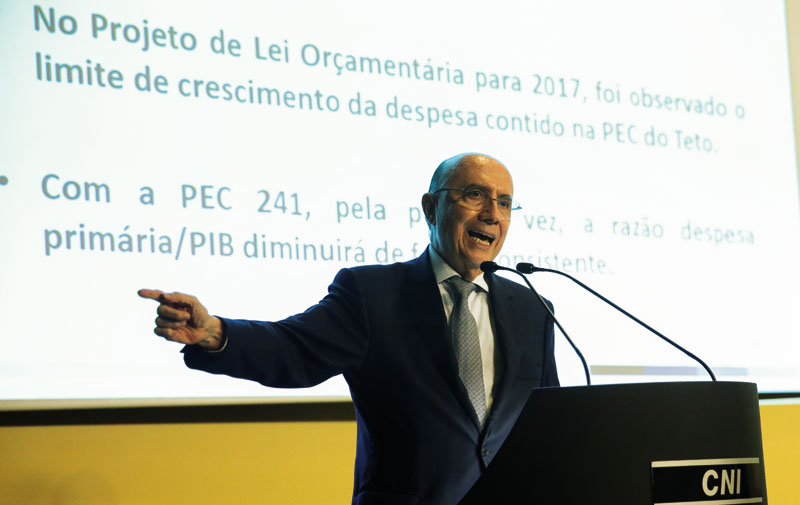 Alguns dias depois do lançamento do Projeto Crescer, em setembro, a empresa de consultoria Go Associados divulgou um cálculo sobre os impactos diretos e indiretos do PPI na economia. Feita a partir de uma metodologia chamada ‘matriz insumo-produto’, a conta concluiu que o efeito seria de R$ 187 bilhões sobre o Produto Interno Bruto (PIB) e 2,7 milhões de novos empregos. A projeção, noticiada em vários jornais, não esclarece o intervalo de tempo nem a duração desses novos postos. Em matéria publicada pelo site G1 no dia 5 de agosto, portanto mais de um mês antes do lançamento do pacote de concessões, o economista Luiz Castelli, da mesma Go Associados, estimou que o país levaria quatro anos, de 2017 a 2020, para gerar 2,79 milhões de vagas, quase o mesmo número anunciado a partir do PPI. E isso, diz ele na reportagem, considerando-se que o PIB cresça 1% em 2017, 2% em 2018 e 2019 e 2,1% em 2020. Pesquisa divulgada pelo Banco Central em 28 de novembro mostra, no entanto, que os economistas já apostam que o país vai crescer menos do que esse percentual já em 2017. Isso sem contar a crise política.
Alguns dias depois do lançamento do Projeto Crescer, em setembro, a empresa de consultoria Go Associados divulgou um cálculo sobre os impactos diretos e indiretos do PPI na economia. Feita a partir de uma metodologia chamada ‘matriz insumo-produto’, a conta concluiu que o efeito seria de R$ 187 bilhões sobre o Produto Interno Bruto (PIB) e 2,7 milhões de novos empregos. A projeção, noticiada em vários jornais, não esclarece o intervalo de tempo nem a duração desses novos postos. Em matéria publicada pelo site G1 no dia 5 de agosto, portanto mais de um mês antes do lançamento do pacote de concessões, o economista Luiz Castelli, da mesma Go Associados, estimou que o país levaria quatro anos, de 2017 a 2020, para gerar 2,79 milhões de vagas, quase o mesmo número anunciado a partir do PPI. E isso, diz ele na reportagem, considerando-se que o PIB cresça 1% em 2017, 2% em 2018 e 2019 e 2,1% em 2020. Pesquisa divulgada pelo Banco Central em 28 de novembro mostra, no entanto, que os economistas já apostam que o país vai crescer menos do que esse percentual já em 2017. Isso sem contar a crise política.
O professor Denis explica que a matriz insumo-produto é, de fato, uma metodologia “com aderência à realidade”, que busca calcular o efeito multiplicador dos investimentos na economia como um todo. Mas alerta que há muitas incertezas envolvidas e que esse cálculo está sendo feito num “campo de indeterminação muito grande”. O primeiro desafio é, a partir de todas as questões já discutidas nesta matéria, saber se esses investimentos de fato virão. “O efeito mais direto é no setor de construção, principalmente na construção pesada, mas não só. Demanda também muita atividade industrial, produção siderúrgica, produção de materiais. Se for habitação, anima depois o setor de imóveis; se for usina, pode animar o setor de transporte”, diz Clemente, do Dieese, explicando que o mais importante são os empregos indiretos.
Denis, no entanto, ressalta que nada disso acontece descolado da política macroeconômica. Por isso, sustenta, o efeito pode ser contrário ao crescimento se, por exemplo, o Banco Central decidir não baixar os juros enquanto não se concluir o ajuste fiscal. “É muito difícil imaginar que os investimentos vão caminhar com uma taxa de juros de mais de 14%”, explica, classificando essa política monetária como “quase proibitiva ao investimento”. O governo parece não concordar. Perguntado sobre se haveria mesmo interesse do capital internacional no pacote de concessões do governo num cenário em que tantos outros países também estão em crise, o Secretário-adjunto do Projeto respondeu que o que faz o Brasil mais atrativo para os investidores é exatamente o fato de a nossa taxa de juros ser “muito maior” do que a dos outros. Já para o economista da Auditoria Cidadã da Dívida, isso é um bom sinal para o rentismo, mas não para quem quer investir na produção – uma má notícia para a urgência de gerar emprego.
Apostando que o capital que mais facilmente vai se interessar pelas concessões brasileiras é o chinês, Marco Antonio destaca os efeitos disso também no emprego, explicando que, sobretudo num momento em que estão com uma taxa de crescimento em queda, os chineses podem trazer também trabalhadores. Pode parecer exagero, mas nem seria uma novidade. Em 2007, a siderúrgica TKCSA, que atua no Rio de Janeiro, trouxe 600 trabalhadores chineses temporários para a construção da sua planta industrial. A decisão foi de uma empresa chinesa contratada pela TKCSA para essa fase da obra e gerou inclusive denúncia de entidades sindicais ao Ministério do Trabalho.
Não há dúvida de que, num país com 12 milhões de desempregados, o desafio é muito grande. E o cenário pode piorar já que, ao mesmo tempo do PPI, o governo está anunciando programas de demissão voluntária nas estatais. Segundo matéria publicada no jornal O Globo em 21 de novembro, nos próximos dois anos empresas como Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Serpro, Infraero, Dataprev e Banco da Amazônia vão incentivar a demissão de mais de 21 mil empregados públicos. De acordo com o jornal, Eletrobras e Correios estariam na fila para fazer o mesmo. “Hoje, no país, entre 11% e 12% dos ocupados estão em emprego público. Essa participação é muito baixa. Ao contrário do que se diz, o Brasil tem poucos funcionários públicos na comparação com outros países. Na França, esse percentual chega a quase 30%. Mesmo nos Estados Unidos, que é considerado o país mais liberal do mundo, a taxa é de 18%, 19%”, explica Denis, desmistificando a ideia de inchaço do Estado que tem ganhado espaço na sociedade.
Mas, supondo que tudo dê certo, em quanto tempo a principal estratégia de crescimento do governo Temer pode gerar emprego? “A primeira coisa que a gente tem que colocar é que a geração de emprego não depende só da infraestrutura. É uma recuperação econômica, uma recuperação da credibilidade do país que vai começar a induzir a geração de emprego”, diz o Secretário-adjunto do Projeto, completando: “Antes de começar as concessões, você já começa a criar expectativas de gerar emprego. Então, eu acredito que os indiretos já são gerados quase imediatamente”. Ele exemplifica com o “mercado de consultoria” que estava “paralisado” e agora começa a “reaquecer”. Todos os outros entrevistados da Poli, no entanto, são bem menos otimistas. O diretor do Dieese resume: “Mesmo se tudo for muito bem feito e rapidamente, não há efeito sobre o emprego antes de 2019. Não dá tempo”.

