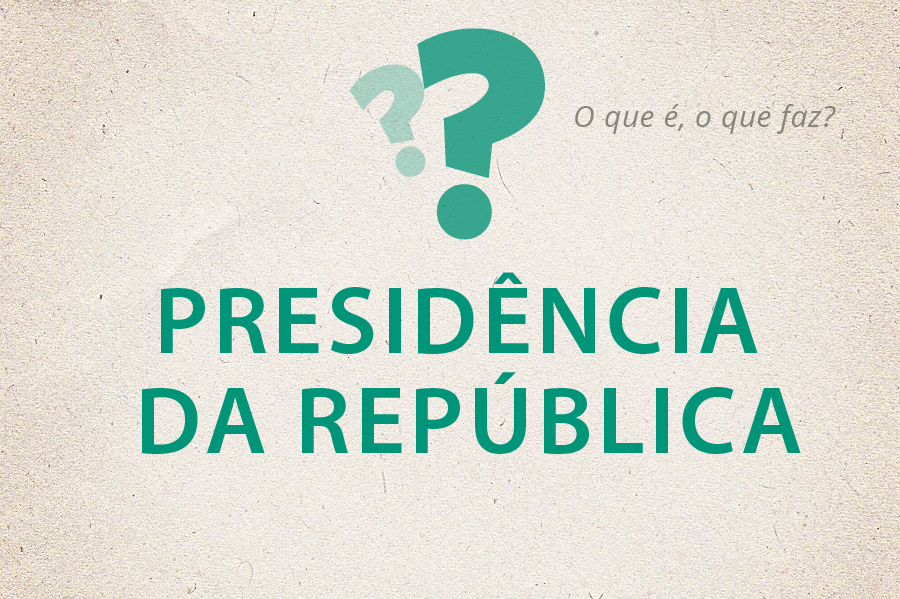Quando receber esta revista você já deverá saber quem vai ocupar a cadeira de chefe do poder Executivo nacional pelos próximos quatro anos. A partir do dia 1º de janeiro de 2019, o presidente eleito vai ter de colocar em prática as propostas de seu plano de governo – trocando em miúdos, será hora de cumprir as famosas promessas de campanha. Nosso sistema político, o presidencialismo, concede relativa liberdade de atuação a um presidente da República, que tem competências exclusivas definidas na Constituição. Para além delas, é preciso ter apoio do Congresso Nacional. Mas as regras do jogo político republicano não são os únicos parâmetros para definir a margem de manobra que um presidente tem para desempenhar suas funções em uma democracia contemporânea.
O que faz um presidente?
O Brasil é uma república presidencialista, sistema de governo cujas origens remontam ao final do século 18: o primeiro sistema presidencial do mundo foi estabelecido pela Constituição de 1787, nos Estados Unidos. Por aqui, assim como em todas as repúblicas modernas, adotou-se a divisão dos poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – como base do sistema político. O presidente é eleito pelo voto direto e acumula as funções de chefe de governo – a quem, entre várias atribuições, cabe executar e propor políticas públicas no plano econômico e social, bem como coordenar a relação do Executivo com as demais instituições – e chefe de Estado – que é quem representa o país em viagens oficiais ao exterior, detém o posto de comandante máximo das Forças Armadas, além de concentrar funções legislativas como as de assinar, ratificar e vetar iniciativas do Congresso. Em outros lugares, que adotam o parlamentarismo, as funções de chefe de governo e de Estado são separadas.
O artigo 84 da Constituição de 1988 lista as atribuições do presidente: nomear e exonerar ministros; sancionar ou vetar, integral ou parcialmente, projetos de lei aprovados pelo Congresso; propor novas leis ao Legislativo; e editar decretos dispondo sobre a organização e o funcionamento da administração federal – desde que não aumente despesas – estão entre as principais. Outra função importante é a de nomear magistrados para ocupar postos-chave como os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Para isso, no entanto, o presidente precisa de aprovação do Senado.
Argelina Figueiredo, professora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Iesp/Uerj), lembra que as atribuições de um presidente variam de país para país, mesmo entre os que adotam o presidencialismo. E o Brasil apresenta particularidades. “A iniciativa legislativa do presidente, por exemplo. Ele pode enviar propostas de lei ao Congresso e pedir urgência para sua votação, podendo trancar a pauta. O presidente tem a iniciativa exclusiva em matéria orçamentária. Isso significa que os deputados não podem apresentar a lei orçamentária, só emendar a proposta do Executivo”, explica.
Outra prerrogativa importante do presidente no Brasil é uma adaptação, para um cenário democrático, do chamado decreto-lei, historicamente utilizado por governos autoritários, como os de Getúlio Vargas durante a ditadura do Estado Novo, e, mais recentemente, durante a ditadura empresarial-militar. Na Constituição de 1988, este instrumento foi substituído pela medida provisória, a MP. Assim como o decreto-lei, a MP entra em vigor no momento em que é apresentada ao Legislativo. A principal diferença é que se não for analisada pelo Congresso em um prazo determinado, perde a validade. Com o decreto-lei, ocorria o contrário: caso não houvesse manifestação do Congresso, era considerado aprovado.
A emenda constitucional 32, de 2001, mudou a tramitação das medidas provisórias e, segundo Argelina, melhorou o processo. “Era comum que o presidente reeditasse medidas provisórias, que dessa forma vigoravam indefinidamente sem serem nem apreciadas em plenário”, aponta, dizendo que foi praxe durante os governos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). “Isso era alvo de muitas críticas”, lembra. Além de vedar a edição de MPs sobre assuntos referentes a direitos políticos e eleitorais, por exemplo, a EC 32 proibiu a reedição de medida provisória que tenha perdido a validade ou que tenha sido rejeitada pelos parlamentares. “Isso obriga o Congresso a analisar as MPs em um prazo de 60 dias, sendo que após 45 há o trancamento da pauta, impedindo que sejam votados outros projetos. Com isso, o processo se tornou mais aberto, com mais possibilidade de a oposição exercer influência”, ressalta.
A emenda estipulou ainda que uma MP só pode ser adotada “em caso de relevância e urgência”. Só que estes critérios dependem da conjuntura política e da correlação de forças em um determinado momento. “O Congresso tem aceitado o que o presidente considera urgente e relevante, apesar de algumas medidas provisórias não serem uma coisa nem outra”, pondera Argelina. Exemplo recente foi a MP da reforma do ensino médio apresentada por Michel Temer (MDB) em 2016, que recebeu críticas de entidades, especialistas e estudantes que denunciaram que uma alteração tão grande não poderia ser feita por medida provisória, sem discussão na sociedade. A despeito disso, foi aprovada pelo Congresso. Destino diferente teve a MP 808/17, que procurava “suavizar” alguns dos efeitos negativos da reforma trabalhista aprovada em 2016, limitando a possibilidade de que mulheres grávidas ou lactantes trabalhassem em condições insalubres, por exemplo. Sem ser votada, perdeu a validade em abril deste ano e até o momento não foi reeditada.
Presidência em meio à crise
As eleições de 2018 ocorrem em meio à maior crise de representatividade desde a redemocratização. No centro dela está a Presidência da República, que com 64% de reprovação na pesquisa Datafolha de junho de 2018, só perde em impopularidade para o Congresso.
Uma das causas da desconfiança no sistema político é a corrupção, que nos últimos anos tem figurado no topo da lista dos maiores problemas do país em pesquisas de opinião. Tornou-se senso comum associar o problema ao chamado “presidencialismo de coalizão”, expressão cunhada em 1988 pelo cientista político Sergio Abranches. Ela designa a forma pela qual o Executivo conduz a administração pública no Brasil, por meio de alianças com diferentes partidos, que recebem cargos em ministérios, autarquias e empresas públicas em troca de apoio político e formação de maioria parlamentar. “Se um presidente deseja governar em uma democracia, ele precisa ter maioria no Congresso. Se não, pode passar o governo sem conseguir fazer nada do que prometeu na campanha aprovada pelo eleitorado”, diz Argelina, que explica que coalizões são formadas tanto no presidencialismo quanto no parlamentarismo. Mas ressalta: “Isso pode ou não ser feito de maneira clientelista. O que não se pode fazer é colocar a culpa pela corrupção em uma instituição ou forma de governo. Governo de coalizão não é necessariamente corrupto”. Segundo ela, não há evidência empírica de que os governos formados por vários partidos sejam mais corruptos do que os formados por um só partido. “A quantidade de escândalos não tem relação com o nível de corrupção, mas com o nível de conflito entre as elites políticas. No governo de coalizão, o cidadão tem mais chance de saber o que está ocorrendo lá dentro porque vai ter conflito entre os partidos, porque se ninguém denunciar não tem escândalo”, aponta.
“Blindagem” da democracia e o papel do presidente
O historiador Felipe Demier, da Faculdade de Serviço Social da Uerj, faz uma análise diversa. Para ele, o presidencialismo de coalizão é um dos elementos de “blindagem” da democracia no capitalismo contemporâneo. Assim, a presidência, como outros núcleos decisórios do Estado, teria se blindado contra quem representa reivindicações sociais que problematizem as desigualdades estruturais, em um processo que foi se desenrolando ao longo da Nova República. “Ainda que a Presidência possa ser alcançada por meio do voto, os aspectos que envolvem sua obtenção - desde a relação com o poder econômico, passando pelo papel da mídia nas eleições, até a legislação eleitoral, que passou por subsequentes contrarreformas que a tornaram mais restritiva - tornam a Presidência praticamente imune a um projeto político que destoe minimamente do consenso neoliberal”, argumenta.
Para ele, os períodos em que o Partido dos Trabalhadores (PT) ocupou a presidência não foram exceção. “O PT só conseguiu alcançar a condição de representante político maior da gestão do Estado porque foi se convertendo em um partido cujo programa passou de uma proposta socialdemocrata para uma que combinava contrarreformas neoliberais com políticas sociais focalizadas. O que, aliás, era inclusive propugnado pelo Banco Mundial”, destaca.
Uma crítica feita por setores mais à esquerda do PT durante seus governos, especialmente os de Luis Inácio Lula da Silva, foi a de que ele poderia ter governado de forma contornar em parte essa “blindagem”, se apoiando em sua popularidade e legitimidade garantida pelas urnas para ampliar a densidade democrática, amparando-se, por exemplo, na convocação de plebiscitos e referendos. Felipe Demier não acha que, dentro do presidencialismo de coalizão, essa seja uma possibilidade real. “A não ser que se tome uma opção radical, que construa outras formas de representação política, de mediações entre o poder político formal e formas de organização dos trabalhadores e movimentos sociais”, propõe.
As eleições de 2018 sinalizam um recrudescimento da blindagem, segundo Demier. “Elas mostram que em tempos de crise a burguesia brasileira não topa nem aquele projeto do Banco Mundial dos anos 1990, de contrarreformas moderadas combinadas com políticas públicas focalizadas, para os mais pobres, que não destinem o fundo público substantivamente para os direitos sociais, mas que continue pagando a dívida pública”, destaca o historiador. E completa: “O que mostra o limite bastante ineslático da nossa democracia liberal blindada, e das próprias instituições que fazem parte dela, como a presidência da República”.